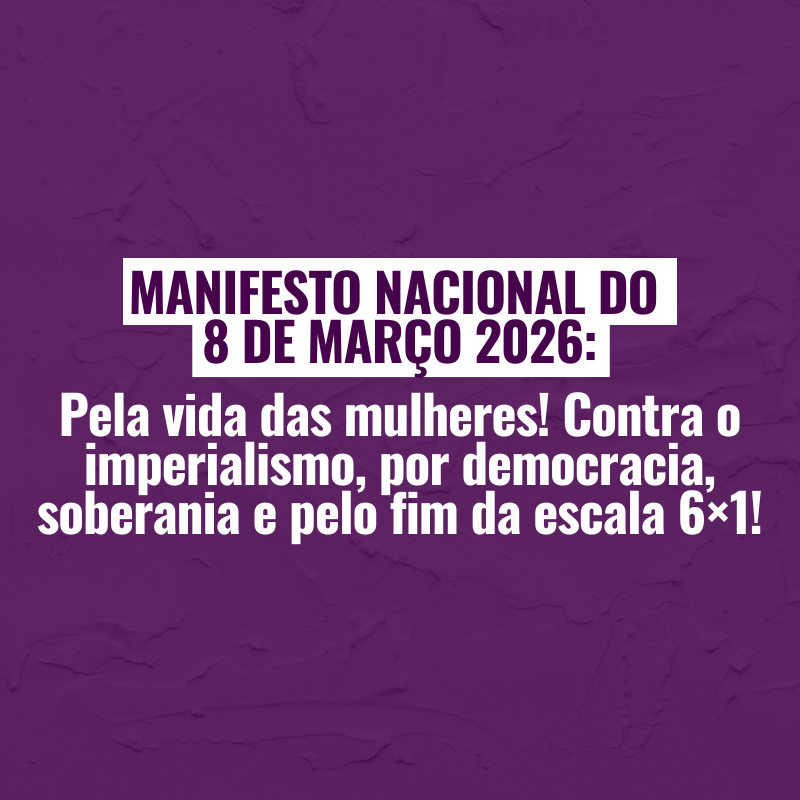As mulheres no mercado de trabalho e na Universidade: impactos na saúde mental
O dia 08 de Março é dia de lembrar a luta de mulheres pelo mundo, dia de celebrar conquistas e de reforçar a importância de estarmos atentas e atentos aos ataques e ameaças proferidas pelo machismo estrutural e pelo neoliberalismo que crescem e devoram os direitos da classe trabalhadora. Como nos lembra Simone de Beauvoir: “Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados”.
Os impactos na saúde mental, o sofrimento e adoecimento de mulheres não estão atrelados apenas às questões existenciais que, de modo geral, todos nos deparamos enquanto humanos. Nossa subjetividade e saúde mental estão intimamente atrelados ao modo de organização social de vida ao qual estamos submetidos. Em uma sociedade ancorada no machismo estrutural, os modos de vida e a subjetividade das mulheres são atravessados sistematicamente pela violência, abuso e precarização de suas condições de vida e trabalho.
Quando nos atentamos ao mercado de trabalho, por exemplo, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)[1], as tarefas de cuidado, especialmente os trabalhos domésticos são ocupados majoritariamente por mulheres, 91% do setor, e ainda assim, elas ganham 20% menos que os homens. Em outros setores como Comércio e Reparação e Administração Pública, elas ocupam cerca de 40% dos cargos e ganham menos 24% e 15%, respectivamente. Na área da Educação, as mulheres são maioria, cerca de 75% e ganham 35% a menos que os homens exercendo as mesmas funções. A lógica patriarcal é manter os ganhos menores e as mulheres seguirem sobrecarregadas com as jornadas duplas, triplas ou mais e isso, obviamente impacta negativamente a saúde mental de mulheres e meninas.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública[2], uma mulher foi assassinada a cada 6 horas apenas no primeiro semestre de 2022. De acordo com o DIEESE[3], a prática de violência e eliminação das mulheres deve-se à busca por afirmação de poder, misoginia e não aceitação de que mulheres exerçam papeis equânimes na sociedade. Eliminadas por simplesmente serem MULHERES e, portanto, vivem com medo e em alerta. É cansativo e devastador viver em estado de vigília o todo tempo por simplesmente SER MULHER. Essa violência extrema é antecedida por violências cotidianas massacrantes, que impactam a saúde mental e a subjetividade, que maltratam mulheres dia após dia e que as colocam em situações de vulnerabilidade. A misoginia, a sobrecarga, a violência psicológica, simbólica, patrimonial, os assédios morais e sexuais fora e dentro dos ambientes laborais são práticas comuns e repetitivas.
Na Ciência, de acordo com o Jornal da USP[4], o Brasil ocupa lugar de destaque, uma vez que a ocupação das mulheres em ambientes científicos é alta em comparação aos homens, porém, essa condição de ocupação está longe do desejável e do ideal. Ainda há muito estereótipo e valorização associados à figura do cientista/pesquisador homem. De acordo com Juliana Silva Garcia e Leonardo Lemos de Souza, em artigo do Jornal “Pensar a Educação”, há um apagamento histórico de participação de mulheres na Ciência e a luta feminista tem buscado o devido reconhecimento desse lugar de pertencimento de mulheres. Além disso, o acesso massivo de meninas e mulheres às instituições de ensino superior é um fenômeno novo no país que começou a ganhar forças nas décadas de 1980 e 1990. Ainda assim, há uma divisão sexual das áreas de ocupação das mulheres que estão majoritariamente nos setores de saúde e educação, ao passo que homens ocupam mais os cargos das ditas “ciências duras”, as exatas, as engenharias e afins e a permanência de professoras, pesquisadoras mulheres nas Universidades não se dá sem sofrimentos cotidianos e desafios.
No contexto acadêmico, a experiência de docentes é marcada pela sobrecarga, pela competitividade e produtivismo exacerbado e traz consequências ainda mais severas às mulheres, professoras e pesquisadoras de Universidade Federais. Elas, por vezes, se veem no lugar de ter que provar seu valor e seu profissionalismo a todo tempo, além de ter que resistir aos assédios, ataques e questionamentos à sua competência cotidianamente. Com intuito de trazer o relato vivo e explícito de como é ser mulher, professora e pesquisadora na UFMG, o Núcleo de Acolhimento e Diálogo do APUBH promoveu duas entrevistas com professoras que explicitaram suas vivências em forma de relato.
Ao contar sobre suas experiências[5] na UFMG, as professoras afirmam que percebem que essa não é uma experiência individual, mas coletivamente compartilhada, embora suas falas não representem um coletivo e não desconsiderem os atravessamentos singulares:
“(…) falo sobre a minha experiência como professora da UFMG. Certamente, minha experiência será diferente da de outras mulheres que possuem questões individuais e sociais diferentes das minhas. Portanto, permito-me falar sobre a experiência de uma professora relativamente novata (tenho mais de 5 e menos de 10 anos de UFMG). A julgar pelas conversas com outras colegas com inserção na UFMG em datas aproximadas à minha, a experiência que relato aqui é, em parte, também a de outras colegas”.
Uma das professoras afirma que o peso de ser docente é carregado de muita sobrecarga e condições de trabalho difíceis e ainda sendo mulher, isso se agrava, pois mesmo nesse lugar os homens ainda estão em lugar estrutural de privilégio:
“Cabe dizer primeiramente que os/as professore/a/s universitários, de modo geral, são profissionais ansiosos. Somos constantemente avaliado/a/s enquanto professore/a/s e, quando éramos aluno/a/s, também estávamos envolvido/a/s em um contexto de avaliação e exposição de ideias. Assim, a contínua avaliação de nossos artigos, de nossas teses e de trabalhos em avaliação final de disciplina nos deixa em um constante estado de alerta e não há como escapar disso, já que essas avaliações são partes da nossa formação. A consequência disso é que sempre estamos antecipando as próximas avaliações com base nas mais recentes, remoendo erros, dúvidas e, felizmente, comemorando alguns acertos também. Sendo essa já uma característica do/a/s professore/a/s universitário/a/s, a situação não seria diferente com um grupo específico no qual me enquadro: o das professoras universitárias. Esse grupo partilha, com seus colegas, uma aflição (às vezes acanhada, às vezes mais pronunciada) sobre seu desempenho intelectual. Fato é que, embora carreguemos essa ansiedade primária por toda a nossa formação universitária e nossa carreira docente, uma professora geralmente tem também outras aflições que se somam às suas intelectuais.
No meu caso, falo de uma aflição aqui que (…) é comum a mim e outras colegas que estão no mesmo patamar de carreira. Essa aflição poderia ser descrita com a seguinte frase: será que você não poderia estar fazendo mais? Por que não participar disso ou daquilo já que fulano não pode?
É comum que colegas homens acreditem que suas pesquisas e seu tempo são mais valiosos, por isso eximem-se de tarefas de administração e participação de bancas. Isso coloca ainda mais pressão nas professoras novas que, por terem acabado de chegar, tentam desempenhar satisfatoriamente suas tarefas em todas as frentes: pesquisa, administração e docência, gerando ansiedade além da costumeira e impactando sua saúde mental de forma excessiva. Sutilmente, então, as professoras acabam desempenhando mais funções administrativas no todo do que seus colegas do gênero masculino, mesmo aqueles que possuem tempos semelhantes de casa. Falo aqui obviamente de uma tendência, mas que é extremamente pronunciada na minha Unidade e entre colegas com que convivo. Assim, enquanto a Universidade é em geral um local de respeito e acolhimento a todos (eu entrei na graduação e nunca mais saí), ela não deixa de ser um lugar em que continuamos experienciando uma subjugação feminina velada, já que as mulheres assumem responsabilidades por seus colegas. A diferença, no caso, é que isso acontece de forma muito mais sutil nas universidades. Só percebemos depois de um tempo que há uma tendência geral de colegas sobrecarregadas”.
A outra professora complementa:
“A partir da minha percepção no que diz respeito à saúde mental, nós, professoras, de um modo geral, podemos sofrer mais impactos que os colegas do sexo masculino, no entanto a grande demanda do ambiente universitário acaba por atingir a todos. Altas demandas de trabalho administrativo, de pesquisa, orientação, aulas, são fatores que conjugados acabam por gerar um desgaste constante abrindo portas para impactos na saúde mental dos docentes. Olhando para um recorte de gênero, acredito que o problema possa estar no fato de professoras mulheres ainda precisarem se preocupar em construir uma espécie de proteção contra possíveis machismos, o que acaba por gerar mais uma tarefa e consequente carga mental que os homens não têm. O machismo, assim como o racismo são questões estruturais na nossa sociedade e por isso passam despercebidos muitas vezes, fazendo com que a vítima fique se questionando se realmente sofreu uma violência ou se foi apenas uma impressão. Nesse sentido, seria muito produtiva a promoção de discussões relacionadas ao tema entre os professores homens. Não acredito que, diante dos avanços que a luta das mulheres conquistou até aqui, ainda seja nossa responsabilidade pensar em práticas para combater o machismo. Esse papel deveria estar inteiramente na mão de quem é beneficiado com essa engrenagem e por questões de cidadania deve buscar a revisão para tais questões”.
Ela ainda traz mais um fator analítico de intersecção entre as violências estruturais, o racismo. Nesse sentido, ser professora/pesquisadora, mulher e negra é ainda mais penoso no ambiente universitário:
“A experiência de uma professora jovem, negra de pele escura, com cabelos crespos naturais certamente não se assemelha a experiência de outras colegas que habitam corpos diferentes e recebem leituras sociais distintas. Na experiência acadêmica como um todo sempre foi um desafio ocupar os espaços onde estive. Desde a graduação são frequentes os questionamentos, ainda que implícitos, e os olhares, já não tão implícitos assim, que não deixam uma mulher negra se esquecer de quem ela é e de quais lugares a sociedade acredita que ela deve ocupar. Na UFMG, a experiência não é diferente, mas a posição de professora adjunta acaba por configurar uma espécie de chancela – estou aqui porque fui aprovada em concurso público como todos os outros professores desta casa”.
Por fim, as professoras corroboram a necessidade da luta constante contra o machismo estrutural e da responsabilidade da Universidade nessa e em tantas outras pautas de violências estruturais. Sobre isso, elas afirmam:
“Portanto, as questões de gênero que perpassam a nossa experiência estão presentes também na UFMG. Não haveria como estarem ausentes! Penso que essas questões muito específicas poderiam, sim, ser contempladas pela UFMG.”.
“A UFMG, como instituição, também deve estar sempre atenta, mas reforço a opinião de que o combate ao machismo dentro e fora do ambiente acadêmico deve ser um debate sob a responsabilidade dos homens, afinal nós já apontamos os caminhos e vimos fazendo isso há uns bons anos. É preciso assumir responsabilidades não como causadores diretos de machismo, mas como parte da sociedade que se beneficia desse sistema injusto.”
O APUBH UFMG+ segue atento e aberto a discutir e promover ações em relação a essa e tantas outras pautas estruturais que devastam a existência e a saúde mental de docentes que estão presentes na sociedade de maneira geral e, consequentemente, também no ambiente laboral. Essa luta é de todes!
[1] Disponível em https://www.dieese.org.br/infografico/2023/infograficosMulheres2023.html
[2] Disponível em https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-damulher/
noticias/seminario-aborda-os-indicadores-a-participacao-e-a-violencia-politica-contra-asmulheres-
nas-eleicoes-gerais-de-2022
[3] Disponível em https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2023/mulheres2023.pdf
[4] Disponível em https://jornal.usp.br/atualidades/participacao-da-mulher-na-ciencia-ainda-nao-e-a-ideal/
[5] O relato se deu sob total responsabilidade das autoras e publicado sob a condição de anonimato. A condição de anonimato nos sinaliza o sintoma do medo de exposição decorrente da violência estrutural no ambiente de trabalho que precisa ser combatido e pauta de luta constante.